Arquidiocese de Braga -
29 janeiro 2013
CONTRIBUTO DA IGREJA PARA UMA SOCIEDADE SOLIDÁRIA
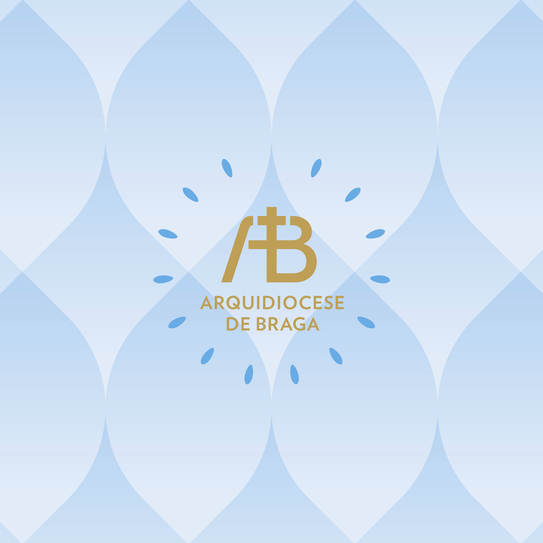
Conferência de D. Jorge Ortiga nas Jornadas da Semana Social, Porto.
Contributo da Igreja para uma sociedade solidária
Conferência
Ao iniciar esta reflexão sobre o Contributo da Igreja para uma sociedade solidária, gostaria de apresentar um preâmbulo como suporte de três considerações prévias. Só depois deixarei uma partilha, sumária e incompleta, sobre o trabalho que a Igreja pode oferecer.
I. O significado da crise
A primeira questão que deve ser equacionada, e situando-nos num contexto de crise, é saber o que podemos e devemos entender por crise. Sem dúvidas, embora com custo, sabemos que esta crise económico-financeira será longa e a sua duração ultrapassará as previsões dos peritos que a comunicação social transmite. Ninguém se pode enganar. Desejamos que tudo se ultrapasse rapidamente, só que a realidade será muito diferente e por muito que nos custe.
Há sinais exteriores que confirmam o mal-estar generalizado. Basta fixar os olhos nas pessoas e criar uma certa empatia que conheça o seu interior, para concluir uma perplexidade e um profundo incómodo existencial. Tudo isto se confirma com o contínuo jogo de discursos a afirmar dados num dia e a desdizer no seguinte, sinal duma desorientação civil e espiritual contra a qual importa reagir com maior determinação e coragem.
Só que nunca poderemos esquecer o essencial: mesmo que a atual situação social encontrasse rapidamente uma saída, através dum milagre económico, isto não significaria que tivéssemos saído da crise. A razão é muito evidente para quem ousa pensar. Sem conseguirmos penetrar no amago da questão, continuaremos sempre apegados a uma crise com um “c” pequeno, quando é imperioso reconhecer que a verdadeira crise se escreve com um “C” grande. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que se fala muito, talvez demais, da crise (spread, bolsas, finanças nacionais, europeias) e pouco, demasiado pouco, da Crise.
É bom falar do Bem-comum e, portanto, reconhecer o valor dos mercados, das empresas, do trabalho e das finanças civis. Só que talvez se deva falar, e fazer falar menos da crise e voltar com força e ousadia a falar, e fazer falar, da crise do nosso modelo de desenvolvimento económico-social e, particularmente, da visão que temos da pessoa humana e da relação social que estamos a interpretar. Deveríamos, (e isto o digo desde o início desta Semana Social), ser capazes de colocar, no centro da agenda pública e política, os temas e os verdadeiros desafios do nosso tempo. Está em questão uma mudança estrutural com uma fase histórica a desaparecer! Como cidadãos e instituições, desejamos encontrar uma luz no fundo do túnel e pretende-se que isto aconteça sem fazer uma leitura atenta e serena do que verdadeiramente está a acontecer. A crise autêntica obriga a recentralizar-se na pessoa para reiniciar um período novo na história, onde todos se devem considerar interpretes e protagonistas. Se a crise é sistémica, teremos de acreditar que tudo dependerá duma hierarquia de opções que devem ser criadas através duma reflexão conjunta.
II. Políticas novas para uma política de respostas
Se é de todos a responsabilidade, os políticos devem redescobrir um novo modo de estar ao serviço do povo. E, sem entrar em questões ideológicas, ouso sugerir algumas pistas de reflexão.
Não ofende ninguém, reconhecer que a política está a viver um momento de profunda desorientação. Não pretendo minimamente imiscuir-me em considerações políticas em geral ou no concreto da vida de quem a exerce. Trata-se duma interpretação, talvez demasiado subjetiva, que poderá ajudar a pensar como mero indicador.
Parece-me que estamos perante uma geração de políticos que nasceu e cresceu no período das grandes ideologias com as suas linguagens e símbolos, que hoje está a trabalhar num mundo post-ideológico e desencantando, muito diferente e incapaz de compreender as suas palavras e quase que incapazes de transmitir as ideias em que acreditam. Daqui emergem novas linguagens e princípios para uma geração nova, não só na idade, mas sobretudo num modo novo de ver mundo e a sua complexidade. Perante um mundo novo, necessitamos de novos políticos com novos princípios!
Existe um outro aspeto de que se fala muito pouco, ou quase nada, a não ser em surdina. Trata-se dum problema que considero central que, se não for encarado a sério, poderá perpetuar um certo mal-estar e pouca apetência pela vida política. A política, ou o político, talvez não seja capaz de fazer uma verdadeira síntese, para oferecer uma autêntica leitura do mundo e da história do nosso tempo. Isto depende da economia e das finanças, que dum modo invasivo e crucial entram na vida das pessoas e da própria política, mas que, cada vez mais, se tornam incompreensíveis pela incapacidade intelectual dos ouvintes e pela variedade das opiniões. Outrora a política era uma arte de oferecer uma visão sintética dos problemas, para poder agir e propor direções certas e seguras do bem comum. Este sentido deve ser recuperado.
Por exemplo, no século XX era suficiente conhecer uma linguagem filosófica, ter bases de direito, de ciências políticas e, evidentemente, de economia. A política tinha familiaridade com estas ideias e com alguns autores capazes de oferecer sínteses, sabendo apresentar direções. Hoje a vocação da política e do político não mudam, mas surgiram elementos múltiplos e estruturantes que se tornam de difícil compreensão. Nem sempre se consegue compreender as leis (se existem) que orientam as economias, as finanças, os mercados, etc. Isto pode não parecer verdade. Só que, pensando bem, nem sempre se consegue compreender a verdadeira função do político, se se ousar pensar bem. Não é questão de colocar em discussão os seus discursos ou intervenções. A questão é mais complexa e abrangente. Perante esta incapacidade, um autor sugere duas pistas de solução.
Uma consiste em confiar a política a quem conhece uma linguagem marcadamente económico-financeira que pode ser incompreendida por muitos. São técnicos de reconhecido valor. Só que cai-se num grande erro: a economia é só uma dimensão da política, um fragmento no meio duma multiplicidade de fatores igualmente importantes e essenciais. Faz-se, deste modo, do particular o todo, sem considerar os outros particulares, pois quem é perito na linguagem da economia pode não o ser nas outras linguagens igualmente essenciais para a síntese política. Alguém afirmara que, deste modo, corre-se o risco de permitir que a política morra assim como a própria democracia, se permitirmos a transcendência absoluta deste sector, desconsiderando todas as outras vertentes que devem, igualmente, ser escutadas uma vez que o bem económico nunca coincidirá com o bem comum por muito que nos queiram fazer entender. Um dos melhores economistas do passado (J. S. Mill) dizia que “um economista que é só economista, é um mau economista”.
Outra saída perante esta dificuldade, e é comum afirmar o que vou referir, acontece num fenómeno de fuga, ou seja, neste período de desorientação muitos talvez os melhores, que teriam uma verdadeira vocação política, nos últimos anos abandonaram a política para se dedicarem a outras formas de empenho prevalentemente no mundo civil.
Para o crente, e aqui está a razão desta minha divagação suscetível de ser criticado, é fundamental voltar a enamorar-se ou reenamorar-se pela política, para que a fase que estamos a viver se abra a algo de novo, para que a política aconteça a partir de políticos novos, onde a fé não disfarça mas motiva.
O que aconteceu depois da segunda guerra mundial? Surgiram forças ideais e espirituais capazes de refundar a Europa, bem como até na própria Igreja surgiram diversos grupos renovadores. Assim, este difícil inverno pode oferecer-nos uma nova política que partindo de económico seja verdadeiramente civil.
III. O contraste de vidas desiguais
Em Ano da Fé e procurando concentrar as nossas capacidades em interiorizar e compreender o Credo, por orientação do Papa, tomamos consciência de que acreditamos em Deus Pai Omnipotente criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na paternidade divina descobrimos uma igualdade de amor para com todos, que deveríamos tornar visível na sociedade.
Sabemos ser utópico pensar numa igualdade efetiva. A humanidade corrompe um projeto maravilhoso. Mesmo conscientes desta situação, não podemos ignorar a escandalosa desigualdade entre seres humanos, não já nas coordenadas que dividem o Norte do Sul, mas no nosso contexto social. Daí que, se é urgente o crescimento, o grande desafio reside na desigualdade. O aumento das desigualdades nas sociedades capitalistas está a tornar-se, segundo os especialistas, no primeiro obstáculo ao desenvolvimento económico e social, porque, devido à grande desigualdade de oportunidades, direitos e liberdades, a riqueza que se cria não se torna fecunda e geradora de trabalho e de verdadeiro desenvolvimento. Olhar para a história depois da revolução industrial até aos dias de hoje, manifesta que o mercado está a intensificar estas diferenças dum modo escandaloso. Basta verificar quanto ganham em termos comparativos, no mundo inteiro, um número insignificante de pessoas perante multidões que se contentam com quantias irrisórias, em alguns casos, e noutros meramente suficientes para uma vida minimamente digna.
A questão dos rendimentos financeiros, colocados em cima das dívidas, vai dificultando a tarefa dum mundo com oportunidades iguais. Não é o local para falar de números nem eu sou especialista, mas não esqueçamos que 4/5 dos chamados pobres absolutos, isto é, aqueles que vivem com menos de dois dólares por dia, não se encontram nos países considerados “pobres” mas naqueles de rendimento médio-alto. Isto traz-nos um fato novo e de alcance epocal: a linha de demarcação entre ricos e pobres está cada vez menos ligada à geografia, como referi (Norte – Sul…), mas entra dentro de cada país. A globalização mudou profundamente a morfologia da pobreza. Se olhamos para os países entre si, os índices são mais ou menos idênticos. Só que olhando para dentro dos países, as diferenças começam a acentuar-se sempre mais. Citando alguém, e não falando no caso português, há maior diferença entre um empregado inglês e uma mulher inglesa de origem na América Latina e com trabalho precário, de baixa habilitação profissional e a viver nos bairros pobres de Londres. Por outro lado a diferença é menor entre um executivo na Inglaterra e outro na mesma América Latina. A desigualdade torna-se, deste modo, um grave “mal público” de que uma inteira população dum país sofre, incluindo a chamada classe mais rica porque, com a desigualdade, aumenta a inveja social, a insegurança e a infelicidade de todos. Daí que a grande preocupação para Portugal, como para outras países, deva consistir em, reduzir as desigualdades, fomentando uma igualdade, não só formal, mas substancial de modo que se torne um dos grandes valores da nossa civilização.
IV. A juventude na berlinda
Outro aspeto a referir, sumariamente mas que nunca pode ser esquecido, é a situação da juventude. Se olharmos os índices de desemprego jovem em Portugal, chegamos imediatamente a uma conclusão: a nossa sociedade ama a juventude, dedica-lhe imensas iniciativas mas, digamo-lo francamente e talvez de um modo exagerado, não ama os jovens!
A nossa sociedade é a primeira que está juntando estes dois erros fatais. Que a nossa cultura não ama os jovens, vê-se pelo modo como os trata no mundo do trabalho, nas instituições, mesmo nos partidos políticos onde os jovens estão cada vez mais ausentes e de que se vão afastando. É este o absurdo de um mundo adulto que quer permanecer jovem e de jovens que não conseguem atingir um verdadeiro estatuto de adultos, determinando deste modo uma patologia social, que complica a vida dos adultos e dos jovens.
A juventude como categoria social foi uma invenção da segunda metade de novecentos, em particular no denominado mundo dos Beatles e da Juventude de 68. Antes passava-se de rapazes e raparigas a adultos sem atravessar a terra do meio da juventude. Alguns historiadores consideram a juventude como uma das maiores invenções da história que mudou a sociedade, a política e a economia.
Hoje, porém, é necessário reinventar a vida adulta porque até quando não se trabalha não se é plenamente adulto, porque não se inicia efetivamente a idade da responsabilidade, compreendida como alta forma de responsabilidade individual e social que, mesmo não sendo sempre seja verdade, se assume no casamento. O trabalho que chega tarde e que se chegar é muito inseguro, fragmentário, precário, frágil não faz outra coisa que prolongar a juventude mas só em horizontes biológicos. Tudo isto faz com que no mundo da economia e das instituições se perca a energia vital e moral proveniente dos jovens, e faz com que seja acidentado e demasiado carregado de riscos este processo e passagem fundamental que o estudo deveria levar, com rapidez, ao trabalho verdadeiro. Não é só sair desta prisão epocal e coletiva. Mas urge que apareça a possibilidade de ver jovens e adultos, juntos e em todos os níveis e ambientes. Daí que importa repensar a problemática do trabalho para um jovem de hoje.
Existem duas tradições que estão a ser alteradas. A primeira é a de que um jovem quando escolhe iniciar um itinerário de estudo, deve perguntar-se o que é que o mercado de trabalho tem necessidade e escolher de harmonia com esta perspetiva. Esta prática de bom-senso que funcionava num mundo mais estático e tradicional, está a perder qualquer relevância significativa. A probabilidade de que exista uma correlação significativa entre a escolha de hoje e o trabalho dentro de 5/7 anos é sempre muito baixa pela simples razão de que este período de tempo muda rapidamente o mundo económico e o jovem também mudará nas suas aspirações.
Surge daqui a segunda mudança cultural que completa este pensamento que diz respeito à relação que devemos ter com os estudos e os títulos académicos. Estes não podem ser um mero obstáculo, mas devem tornar-se um investimento próprio, que será utilíssimo para a liberdade e felicidade. Conseguindo um trabalho de harmonia com os estudos escolhidos, muito bem; mas importa criar mentalidade, e aqui vejo um contributo importantíssimo da Igreja, se não se consegue deve aceitar-se o trabalho que seja útil à sociedade e dum modo alegre e corajoso. O trabalho de amanhã será cada vez menos ligado aos títulos de estudo e sempre cada vez mais à nossa capacidade de responder e antecipar as necessidades e os gostos dos outros, demonstrando aos nossos interlocutores que, no momento que corre, temos algo de válido e de útil a mudar com eles, em relações de mútua vantagem, dignidade e reciprocidade. Os títulos irão ser sobretudo investimentos na liberdade criativa, em novas oportunidades culturais e sempre menos ligados ao diploma e a um lugar de trabalho. Estas transformações são muito profundas e complexas e não devem deixar os jovens sozinhos a ultrapassar esta viragem. Doutro modo, continuarão a gostar da juventude mas a tornar muito difícil o seu presente e futuro.
V. Contributo da Igreja para uma Sociedade Solidária
Estas considerações podem parecer descontextualizadas do tema que me foi confiado. A Igreja será capaz de oferecer algo de específico e de insubstituível? Conscializar-se da urgência duma nova política com políticos novos, comprometendo-se com os jovens e reconhecer a tremenda desigualdade, são propostas para que a crise se reconheça como escrita com um “C” grande, isto é, que nos conduza a um novo modelo de sociedade. A Crise é antropológica, ética, social e espiritual, e a Igreja tem algo a dizer, reconhecendo-se como mestra em humanidade. Só que o deve fazer com mais força, com a força das ideias, isto é do Evangelho, e colocando sobre o candelabro as obras que tantas associações, dioceses, movimentos estão a realizar no terreno. A sociedade solidária constrói-se todos os dias e a esperança social vai respirando no coração de muitas pessoas que se debatem com interrogações dramáticas.
Mensagem geradora duma nova cultura
Quase sempre, a comunicação social nos obriga a olhar para aquilo que se faz. Creio que poucos conhecem a verdadeira odisseia de tanto amor e solidariedade vivida. A sociedade solidária nasce destas obras por aquilo que elas são – podendo ser sempre muito mais – mas, sobretudo, pela luz que deveriam inquietar muita gente. Muitos demitem-se e exigem que a Igreja faça. Esquece-se o princípio da subsidiariedade e parece querer que regresse um assistencialismo puro e simples. O grande problema da hora atual é envolver toda a sociedade e é aqui que a Igreja está a realizar um trabalho digno de todos os encómios, mas que continua como projeto a intensificar. Somos portadores duma doutrina e ela deve ser conhecida pelos crentes, para que depois seja exercitada. É esta mentalidade ou cultura da solidariedade que a Igreja cultiva na catequese e na liturgia. O Evangelho é algo que incomoda e faz com que os cristãos sejam, na sua vida familiar e pessoal, protagonistas duma sociedade solidária. Isto não pode ser esquecido. É trabalho que não se vê!
Um Concílio a redescobrir
A igreja Católica em Portugal está a responder ao convite do Papa Bento XVI de celebrar os 50 anos do Concílio, através da vivência dum Ano da Fé. A Fé ainda não tinha sido abordada, explícita e exclusivamente, por alguma encíclica deste Papa. É certo que se espera uma publicação para breve. Mas não deixa de ser importante que coloque nas mãos das dioceses a responsabilidade de recolar o espírito e os conteúdos do Concílio Vaticano II.
Permitam-me que partilhe convosco uma experiência pastoral acontecida numa Visita Pastoral, quando conversava com as crianças. No final uma ofereceu-me um desenho onde colocava, lado a lado, dumas imagens. Dum lado uma circunferência com um coração dentro; doutro um coração grande com uma circunferência dentro. Fiquei impressionado quando lhe perguntei o significado dos dois desenhos muito parecidos mas totalmente diferentes. Dizia-me que um se referia ao tempo (idade de criança) antes de conhecer Jesus na catequese. O outro, ao tempo depois de O conhecer. E acrescentava, antes tinha o meu coração no mundo (a circunferência queria ser uma esfera armilar, a qual evoca uma das novidades que o Concílio Vaticano II trouxe à minha vida de estudante de teologia), agora tenho o mundo dentro do coração. Que grande lição e de profunda actualidade!
Quase sempre temos o coração no mundo e queremos ser como todos os outros num espírito mundano, quando, como Cristo que incarnou, devemos ter o coração no mundo.
Para mim, recordo com alguma responsabilidade, esta foi uma das dimensões que marcam a minha vida durante a realização do Concílio. A evolução que a Gaudium et Spes teve é disso significado. Recordo que se falava da necessidade da Igreja e dos cristãos colocarem numa mão a Bíblia e na outra o Jornal. Não sei até que ponto a Bíblia já adquiriu este estatuto de centralidade na vida das comunidades e das pessoas. Quanto ao jornal cá tenho as minhas dúvidas, não porque não repute importante a tarefa dos profissionais da comunicação, mas por causa do facciosismo e conteúdos dos jornais, que também procuro ir lendo. Só que me parece que, aceitando a lógica desta metáfora, creio que a Igreja deverá continuar com a prioridade da Bíblia, bem como deve colocar nas suas mãos outros instrumentos. Se o Santo Padre sugeriu que entrássemos no Catecismo da Igreja Católica para celebrar os 25 anos da sua publicação (15 de Agosto de 1997), deveremos dar outra atenção, igualmente importante porque detentora da doutrina conciliar, ao Compêndio da Doutrina Social da Igreja (2004). Sei da importância do Código do Direito Canónico (25-11-1983) e não ignoro o empenho de algumas correntes para um regresso duma liturgia pré-conciliar. Penso, porém, que com a Bíblia as comunidades devem colocar na bagagem da sua caminhada o Catecismo da Igreja Católica e o Compêndio da Doutrina Social da Igreja.
O contributo da Igreja, como responsabilidade peculiar, por uma Sociedade Solidária passa muito por aqui. A Doutrina Social da Igreja tem de chegar à cultura social, dentro e fora da Igreja, para uma nova mentalidade. Um pensamento estruturado e com a experiência que se foi consolidando, particularmente no último século, é o melhor contributo.
Síntese da Doutrina Social
Somos Igreja pela caridade e esta deve ser recuperada, pelo conteúdo e forma de a exercitar. Talvez ainda o esteja a ser dum modo “fragmentária”, como diz Bento XVI (Caritas in Veritate, 14), e talvez por isso e para muitos, até “escandalosa”, segundo S. Paulo (Conf. 1 Cor 11, 21). Na prioridade da Evangelização, a caridade deve estar presente em todas as dimensões (catequese, liturgia, edificação da comunidade) e tornar-se um elemento constitutivo e fundamental das comunidades. A crise da credibilidade da Igreja pode dever-se à pouca centralidade duma solidariedade efetiva de modo que ouvimos, algumas vezes, pessoas a afirmar que não querem uma Igreja só de verdades e ortodoxia, de liturgia e de ritos, mas que se distinga e afirme pela diaconia, fazendo com que esta se torne um verdadeiro motor de toda uma missão.
Ao manifestar o Amor de Deus, a sociedade torna-se mais solidária e o percurso a seguir deve contemplar três dimensões de igual importância.
1 – Depois do anúncio do amor aparece a comunidade que deve ser animada pela caridade. Este fio de ouro, que une pessoas de todas as condições, manifesta uma preferência pelos mais pobres e necessitados. O amor encerra uma carga material e espiritual, as duas atitudes com o mesmo sentido e importância. A ideia da comunidade encerra um dinamismo capaz de discernir tudo o que possa ser necessidade e, com um coração sensível, ver e responder no silêncio ou através de estruturas. O amor silencioso é a grande carência dos tempos modernos e alargar os horizontes do significado da pobreza é o principal desafio dos tempos atuais. A solidão e desespero podem ser tão importantes como o pão e o vestir. A violência e a ignorância familiar contextualizam uma interpelação idêntica à carência de água ou eletricidade. Este é o rosto hodierno da caridade, como alma da comunidade e que faz com que esta na sua globalidade seja sujeito da mesma. Aqui gostaria de colocar o exemplo do P. Américo na sua célebre fórmula: “Se cada paróquia cuidasse dos seus pobres, os pobres deixariam de existir”.
2 – Esta espontaneidade, quase sempre escondida pelo silêncio e anonimato que exige, terá de chegar a um exercício organizado da caridade. A organização passa por muitas dimensões. As estruturas materiais são um dos aspetos, os movimentos que aglutinam imensos voluntários podem ser mais importantes. Em relação aos primeiros, talvez tenhamos de nos interrogar. Quanto aos segundos, uma Igreja comunhão orgânica não os pode dispensar e o muito que existe está a pedir uma maior mobilização.
3 – Há um elemento imprescindível nas comunidades como sujeitos da ação social e na articulação visível de serviços. Trata-se da consciência evangelizadora de todos quantos dedicam a sua vida ao serviço dos mais carenciados. A caridade é critério de credibilidade da Igreja na sua missão de anunciar o Evangelho, como Boa Nova para todos a partir do compromisso com os pobres. Este testemunho que não necessita das parangonas dos jornais é o contributo mais persuasivo para que toda a comunidade civil se torne solidária.
Daqui gostaria de concluir que a caridade, e se repararam não tenho hesitado em a usar sem complexos, pois é aquela que genuinamente interpretada melhor expressa a vida da Igreja, dado que nunca estamos a brincar à caridadezinha, que expressa-se na solidariedade que o Papa Bento XVI definiu assim: “Amar alguém é querer o seu bem e trabalhar eficazmente pelo mesmo. Ao lado do bem individual existe o bem ligado à vida social das pessoas: o bem-comum. É o bem daquele nós todos, formado por indivíduos, famílias e grupos intermédios que se unem em comunidade social.” (Caridade na Verdade, 8)
A Caridade leva-nos, deste modo, ao princípio basilar da Doutrina Social da Igreja: o Bem-Comum. Este deve ser colocado no coração da cidade dos homens e fazer com que anime o quotidiano da sociedade, como expressão duma solidariedade vivida e uma dimensão estrutural da Evangelização. Daí que a diaconia da caridade deve voltar a ocupar uma centralidade, de modo a que a Igreja se edifique como verdadeira estalagem que acolhe e cura todos, dando dinheiro e outros meios, como o Papa nos lembrou em Fátima.
Responsabilidade de todos, a comunidade como sujeito
Esta centralidade faz com que a caridade não seja privilégio de alguns, mas que corresponsabilize toda a Igreja e a todos na Igreja. Redescobrindo a sua identidade cristã, o amor é tarefa para todos e isto fará com que, qual mancha de óleo que vai permeando uma peça de tecido, o amor influencie e questione a insolidariedade de muitas pessoas adormecidas ou a pensar meramente no seu bem-estar. A sociedade sentirá o calor e também quererá aquecer! Não são os discursos que motivam ou levam a agir. Costuma-se dizer que o amor arrasta. Eu direi que o testemunho evangelizador infiltrar-se-á e oferecerá a exigência dum caminho novo.
A justiça como “medida mínima da caridade”
No nosso contexto atual, acreditando que só a caridade oferece a possibilidade de edificar uma sociedade solidária, não poderemos esquecer a justiça como suporte e garantia desta mesma solidariedade. Ela nunca pode ser esquecida nesta tarefa da evangelização, apresentando-a como o Papa Bento XVI a vê: a caridade exige a justiça e supera-a. A interioridade da caridade está em ser amor “recebido e dado”, “graça” (charis) que tem a “sua nascente no amor frontal do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É amor que, pelo Filho, desce sobre nós tornando-se “amor criador” que ultrapassa as condicionantes da justiça. Na verdade, “amar é dar, oferecer ao outro do que é “meu”; mas nunca existe sem a justiça, que induz a dar ao outro o que é “dele”, o que lhe pertence em razão do que é meu, sem antes lhe ter dado aquilo que lhe compete por justiça (cf. CIV 6).
f) a fraternidade como suporte da sociedade solidária
Houve um tempo em que o mundo se estruturou duma forma nítida e precisa segundo três esferas: económica, política e familiar. A partir do século XIX este esquema começa a vacilar até encontrar na era da globalização a sua total inadequação. Os dinamismos económicos e sociais complicaram-se uma vez que o mundo económico começou a invadir todos os outros âmbitos e entrou numa complexidade de difícil individualização e caraterização.
Acresce, ainda, que este “império” da economia partia duma convicção onde era necessário lutar contra uma mentalidade ainda feudal, onde multidões de pobres e pedintes dependiam, para viver, da benevolência e esmola dos patrões. A Revolução Francesa, com o seu ideário de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, procurou a libertação dos benfeitores para que se estabelecesse uma relação entre iguais para serem livres, não dependendo de ninguém nem substituindo pessoas concretas, nem caindo na dependência de anónimos. A fraternidade, porém, foi cedendo terreno à omnipotência dos interesses e lucros, impedindo uma comunhão e amizade entre quem recebe e quem dá, seja trabalho ou objetos materiais.
O tempo fez com que se chegasse a uma nítida oposição entre dois mundos, quase incompatíveis: a lógica e as exigências do mercado e a subtileza alegre do dom. Este seria sempre qualquer coisa de distinto, ou mesmo contraditório, a concretizar em determinados momentos, por sinceridade ou desejo de, também aqui, se aproveitar para vantagem pessoal. Aparece o capitalismo filantrópico que alguns apelidam de “humanismo de indivíduos sem comunidade”. O individualismo impõe-se e em todos os setores. Hoje, providencialmente, começam a surgir considerações onde o indivíduo é considerado, como sempre o deveria ter sido, como pessoa, isto é, alguém que constitutivamente vive em relação, reforçando e dando consistência à individualidade única e irrepetível. Aqui a Doutrina Social da Igreja tem dado um contributo histórico, que nem todos reconhecem, e a “Caritas in Veritate” encerra um conjunto de fundamentações ainda não suficientemente entendidas e, muito menos, aplicadas.
A revolução Francesa tinha-se confrontado com o princípio de fraternidade, que não foi facilmente aceite por todos, e esta entrou tenuamente na síntese dum novo pensamento que procurava um princípio que não se limitasse a direito individuais e característicos dum status (liberdade e igualdade) mas apontasse caminhos para uma nova vida comum, sabendo que se deveria ultrapassar o antigo conceito para construir uma fraternidade nova, não “exclusiva e excludente” e característica duma fraternidade natural. Era uma antecipação do que hoje se pressupõe como expressão dum humanismo cristão marcado pela dimensão universal e universalista. Assim ela entra, ou deve entrar, em jogo como lógica dum reconhecer um Pai comum.
A Fraternidade postula, não só a tolerância do outro, como exige o seu respeito como acolhimento da originalidade e reconhecimento da peculiaridade que o enriquece. A Fraternidade conjuga na sua humanidade algo que une o “nós” comunitário e na alteridade sublinha o distinto que não é hostil mas complementar. Aqui todos os homens e todas as mulheres desempenham um papel construtivo da sociedade, quer por aquilo que recebem quer por aquilo que oferecem. Todos valem e não só quem se considera dotado, ou seja, capaz de “enriquecer” visivelmente o todo comunitário.
É a fraternidade compatibiliza a caridade e a justiça, tornando-se aquela que a “supera e completa com a lógica do dom”. “A cidade do homem” não se move apenas por relações feitas de direitos e de deveres mas antes e sobretudo por relações de gratuidade, misericórdia e comunhão” (Caridade na verdade, 6). O elemento do dom, oriundo duma reinterpretação a sério da fraternidade, como resultado da paternidade de Deus, a que nem sequer a revolução francesa conseguiu dar expressão, é o caminho para a sociedade solidária que a Igreja colabora na sua realização. São palavras alérgicas na mentalidade atual. Só que sem Caridade, dom (gratuidade) e Fraternidade, nunca atingiremos a solidariedade de que o mundo necessita.
Para uma renovação civilizacional
“Os aspetos da crise e das suas soluções bem como de um possível novo desenvolvimento futuro estão cada vez mais interdependentes, implicam-se reciprocamente, requerem novos esforços de enquadramento global e uma nova síntese humanista. A complexidade e gravidade da situação económica atual preocupa-nos, com toda a justiça, mas devemos assumir com realismo, confiança e esperança, as novas responsabilidades a que nos chama o cenário de um mundo que tem necessidade duma renovação cultural profunda e da redescoberta de valores fundamentais para construir sobre eles um futuro melhor. A crise obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho, a impor-nos regras novas e encontrar novas formas de empenhamento, a apostar em experiências positivas e rejeitar as negativas. Assim, a crise torna-se ocasião de discernimento e elaboração de nova planificação. Com esta chave, feita mais de confiança do que resignação, convém enfrentar as dificuldades da hora atual” (Caridade na Verdade, 21).
Uma renovação cultural profunda, numa redescoberta dos valores fundamentais, deve ser interpretada. Só a ousadia o conseguirá! A crise com “C” grande dá esta lição e exige que aceitemos desafios capazes de construir um mundo de liberdade autêntica, igualdade consciente e fraternidade motivadora. A sociedade solidária começará a nascer.
Termino com lídia Jorge, que reconhece que a ausência da solidariedade tem um preço. Sem ele “há uma corrupção daquilo que é o nosso princípio de coexistência e até de sobrevivência. É uma regra biológica antes de ser regra ética, política ou moral, às vezes esquecemo-nos disso”.
VI. Epílogo de duas afirmações
A consciência de que o melhor contributo para uma sociedade solidária está no testemunho de comunidades cristãs unidas pelo amor e comprometidas com um amor concreto, como nos desafiou Bento XVI nas encíclicas Deus caritas est e Caritas in Veritate. Na altura da sua publicação todos reconheceram o pioneirismo desafiante que lançaram às comunidades cristãs e civis. Depois, se não as recuperarmos, correm o risco de as usarmos mais como fonte de citações cuja doutrina ainda não se estudou nem entrou nos dinamismos da vida dos crentes e das comunidades.
Mesmo assim, quero deixar algumas citações.
1 – “A Igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado. Mas também não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Deve inserir-se nela pela via da argumentação racional e despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça, que sempre requer renúncias, não poderá afirmar-se nem prosperar. A sociedade justa não pode ser obra da Igreja; deve ser realizada pela política. Mas toca à Igreja, e profundamente, empenhar-se a favor da justiça, trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade às exigências do bem” (Deus é amor, 28 a)
2 – “Um Estado, que queira prover tudo e tudo açambarcar, torna-se, no fim de contas, uma instância burocrática que não pode assegurar o essencial de que o ser humano sofredor – todo o ser humano – tem necessidade: a amorosa dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que generosamente se conheça e apoio, segundo o princípio de subsidiariedade, as iniciativas que nascem das diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade às pessoas carecidas de ajuda. A Igreja é uma destas forças vivas: nela pulsa a dinâmica do amor suscitado pele Espírito de Cristo. Este amor não oferece aos seus humanos apenas uma ajuda material, mas também refrigério e cuidado para a alma – ajuda esta, muitas vezes, mais necessária que o apoio material. A afirmação que as estruturas justas tornariam supérfluas as obras de caridade esconde, de fato, uma conceção materialista do ser humano: o preconceito segundo o qual o ser humano viverá “só de pão” (Mt 4, 4) – convicção que humilha a pessoa e ignora precisamente aquilo que é mais especificamente humano”. (Deus é Amor, 28 b).
VII. Uma conclusão marcadamente pessoal
Não posso deixar de reconhecer quanto me deu o Átrio dos Gentios acontecido em Braga e Guimarães no fim-de-semana passado. O valor da vida foi sublinhado aí, no qual os crentes e não crentes aceitaram reconhecê-lo como algo de sagrado a reconhecer por cada um e a oferecer aos outros. Trata-se do valor da vida em cada um e em todos. Marcou-me a mensagem do Santo Padre. Terminaria, assim, com as últimas palavras duma carta, assinada pelo próprio punho, de Sua Santidade.
“Na modernidade, porém, o homem quis subtrair-se ao olhar criador e redentor do Pai (cf. Gn 4, 14), fundando-se sobre si mesmo e não sobre o Poder divino. Quase como sucede nos edifícios de cimento armado sem janelas, onde é o homem que provê ao clima e à luz; e, no entanto, mesmo em tal mundo auto-construído, vai-se beber aos «recursos» de Deus, que são transformados em produtos nossos. Que dizer então? É preciso tornar a abrir as janelas, olhar de novo a vastidão do mundo, o céu e a terra e aprender a usar tudo isto de modo justo. De facto, o valor da vida só se torna evidente, se Deus existe. Por isso, seria bom se os não-crentes quisessem viver «como se Deus existisse». Ainda que não tenham a força para acreditar, deviam viver na base desta hipótese; caso contrário, o mundo não funciona. Há tantos problemas que devem ser resolvidos, mas nunca o serão de todo, se Deus não for colocado no centro, se Deus não se tornar de novo visível no mundo e determinante na nossa vida. Aquele que se abre a Deus não se alheia do mundo e dos homens, mas encontra irmãos: em Deus caem os nossos muros de separação, somos todos irmãos, fazemos parte uns dos outros.” (Mensagem aos participantes no Átrio dos Gentios em Braga e Guimarães)
Meus amigos, gostava de concluir com estas palavras do Concílio Vaticano II aos homens de pensamento e de ciência: «Felizes os que, possuindo a verdade, a procuram ainda a fim de a renovar, de a aprofundar, de a dar aos outros» {Mensagem, 8 de Dezembro de 1965).
Sublinho: o Homem quis subtrair-se ao olhar criador e redentor do Pai.
- Encontra-se fechado num edifício de cimento armado nem janelas;
- É preciso tornar a abrir de novo as janelas;
- E isto só acontece se Deus existe;
- Seria bom se os não-crentes quisessem viver “como se Deus existisse”;
- Há tantos problemas que devem ser resolvidos, mas nunca o serão de todo, se Deus não for colocado no centro;
- Aquele que se abre a Deus não se alheia do mundo e dos homens, mas encontra irmãos;
- “Felizes os que, possuindo a verdade, a procuram ainda a fim de a renovar, de a aprofundar, de a dar aos outros;
Eis a questão; “Aquele que se abre a Deus não se alheia do mundo e dos homens, mas encontra irmãos.”
+ Jorge Ortiga, A. P.
Porto, 23 de Novembro de 2012.


Partilhar