Arquidiocese de Braga -
8 novembro 2021
O alto custo de viver num mundo com deficiência

DACS com The Guardian
Apesar de todos os avanços que foram feitos nas últimas décadas, as pessoas com deficiência ainda não podem participar na sociedade “em igualdade de condições” com as outras – e a pandemia fez com que muitas protecções fossem cruelmente corroídas.
Às vezes, parece que o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência venceu. Após anos de trabalho de base, 1981 foi declarado o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Eu nasci nesse ano, em Oslo, Noruega, e apesar de não ter recebido o meu primeiro diagnóstico de distrofia muscular até ser criança, a coincidência é suficientemente apropriada: nasci num mundo que estava, finalmente, a começar a reconhecer este aspecto do meu ser nele.
Então, de 1983 a 1992, veio a Década das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. E a Lei dos Americanos com Deficiências, a Lei de Discriminação de Deficiências do Reino Unido e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. A viragem do milénio foi marcada por uma litania de boas intenções e rejeições de tratamento desigual – por um endosso, como afirma o primeiro artigo da convenção da ONU, do direito das pessoas com deficiência à “participação plena e efectiva na sociedade em condições de igualdade com outros”.
Cheguei à maioridade neste mundo, mais ou menos protegido por esses direitos. Na Noruega, que produziu a própria lei em 2008, recebi educação, encontrei trabalho e comecei uma família. Estou a escrever isto como um professor titular, tão bem protegido quanto um membro de uma classe protegida pode estar. E, no entanto, estou a escrever com a sensação, como Tony Soprano, de que cheguei ao fim – que o melhor, no sentido das nossas melhores e maiores esperanças por protecções universais baseadas em direitos e pela lógica da anti-discriminação, acabou.
Algumas protecções foram corroídas, geralmente em nome de restrições orçamentais. Também suspeito que a grande conversa – sobre se as pessoas com deficiência devem ter “direitos iguais” – às vezes serviu para obscurecer as inúmeras desigualdades materiais que constituem a experiência vivida. E talvez precisemos de ter uma conversa diferente para entender este mundo: a conversa sobre o trabalho.
O parque do lado de fora do jardim de infância do meu filho é cercado por uma cerca de madeira com cerca de 1,5 metros de altura. O portão, também de madeira, é aberto com um ferrolho deslizante colocado no topo – alto o suficiente para impedir que qualquer criança empreendedora escape para o estacionamento adjacente.
Para abrir o portão, tenho que elevar o assento da minha cadeira de rodas o mais alto possível, cerca de trinta centímetros da sua posição mais baixa. Isto permite-me levantar e alcançar o ferrolho. Se chover ou nevar, como costuma acontecer em Oslo, a madeira expande-se e o ferrolho fica difícil de deslocar. Tenho que ter cuidado com o meu equilíbrio, especialmente quando dou alguns passos para fora da minha cadeira de rodas para fechar o portão atrás de mim; não há como fazer isto enquanto estou sentado.
Para mim e para o meu filho, esta tarefa tornou-se um jogo e um esforço conjunto. Ele ajuda a abrir o portão. Ficando na ponta dos pés no apoio para os pés da cadeira de rodas, ele pode alcançar o ferrolho sozinho. Ele sabe o que estamos a fazer e a sua parte nisso. Era mais difícil quando ele tinha três anos, e eu não queria desviar a minha atenção dele nem por um segundo, pois os carros e camiões podiam entrar no estacionamento a qualquer momento.
O portão é antigo. Não me importaria de vê-lo substituído. Mas estou hesitante em fazer um pedido. Vi os novos portões a aparecerem em outros jardins de infância pela cidade, equipados com um ferrolho que não desliza, mas tem que ser puxado para cima. Os meus tríceps e músculos do ombro são significativamente mais fracos do que os meus bíceps. Não tenho como abrir esses novos portões sozinho. E eu quero levar o meu filho ao jardim de infância eu mesmo, por este muito curto, muito longo período da sua vida.
Existem, é claro, outros pais. Durante a hora de ponta pela manhã e no início da tarde, quase não se passam alguns minutos sem que alguém apanhe ou vá buscar crianças. Isso proporcionou-me, ao longo dos anos, um vasto leque de experiências sociais na entrada do jardim de infância. Alguns pais correram para ajudar a abrir o portão desde o início. Alguns pareciam hesitantes, mas precisavam apenas de um pouco de encorajamento – um aceno de cabeça, um sorriso, um “importa-se…” – e seria o suficiente.
Fiz uma encomenda na Amazon (eu sei) que foi encaminhada, através da UPS, para um quiosque de fast-food perto do meu prédio. Este local tinha degraus, nenhuma rampa e nem campainha nem informações de contacto disponíveis online. Foi a terceira vez que a UPS redireccionou um livro para lá. Não tive sorte ao dizer-lhes que o lugar era inacessível e que as pessoas que trabalhavam ponto de recolha eram... menos do que simpáticas. E então fiz uma reclamação oficial às autoridades norueguesas.
Em alguns encontros, porém, havia apenas uma espécie de vazio. Nesses encontros, eu sabia com perfeita clareza que, se eu quisesse a ajuda dessa pessoa, teria que pedir em voz alta e clara. Olhar directamente, voz firme. “Pode, por favor, abrir -me o portão?”.
Nem sempre tenho energia excedente para isto. Eu sei que o esforço físico que vou despender para abrir o portão é uma ordem de magnitude maior do que o que estou a pedir a esta outra pessoa, que pode deslizar o ferrolho sem esforço, empurrar e puxar o portão sem pensar muito. Mas também sei que o esforço físico que vou despender pode ser menos árduo do que o esforço emocional de dizer as palavras certas precisamente da maneira certa.
Os outros pais são, como grupo e como indivíduos, prestáveis e gentis. Eles são social-democratas e igualitários. Acreditam na igualdade. Certa vez, a minha esposa estava a conversar com uma das outras mães no jardim de infância; elas estavam a falar sobre as suas vidas. Eu apareci, a minha cadeira de rodas apareceu, e a mulher, hesitante, disse que não se queria impor, ajudando com o portão. Ela tinha-me visto, naturalmente, mas tinha a noção de que era importante ver-me como uma pessoa, não apenas como uma cadeira de rodas. E então decidiu não oferecer ajuda.
A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência recebeu as suas primeiras assinaturas em 2007; recebeu o maior número de assinaturas no primeiro dia de qualquer um desse tipo de documentos. Foi considerada a última das grandes convenções de direitos humanos, o último dos grandes actos de reconhecimento de minorias até então ignorados. (Embora, é claro, nunca estaremos certos se tal acto é, ou deveria ser, o último do seu tipo).
A convenção é utópica, como deve ser. A questão é o tipo de utopia que ela imagina: um mundo onde os direitos humanos sejam estendidos de forma plena e abrangente às pessoas com deficiência. Um mundo em que a discriminação por deficiência foi eliminada.
O que é que isto significa? Para que utopia aponta o objectivo de “participação plena e efectiva na sociedade em pé de igualdade com os demais”? Isso depende não apenas do que entendemos por discriminação, mas também por igualdade.
O conceito de igualdade nunca é mais problemático do que quando se cruza com o conceito de justiça. Aristóteles identificou o cerne do problema quando argumentou, na Política, que “a igualdade parece ser justa e é, mas não para todos, apenas para aqueles que são iguais para começar”. Claro, isso pode ser um argumento a favor da redistribuição económica, mas também a favor do racismo, sexismo e muitas outras formas de discriminação explícita, uma vez que “a desigualdade parece ser justa, e, de facto, é, mas não para todas as pessoas , apenas aqueles que não são iguais”.
De modo geral, não discutimos desta forma. Tentamos, em geral, separar a igualdade em termos de valor da igualdade em termos de capacidades. Queremos, na tradição liberal do pós-guerra à qual pertencem as grandes convenções da ONU, alcançar igualdade de oportunidades, se não igualdade de resultados.
O uso dos direitos humanos como instrumento para atingir esse objectivo tem muitos méritos e um grande peso moral. E a configuração da discriminação como o grande mal moral do nosso tempo passou a influenciar até mesmo a homogénea e social-democrata Noruega. Aqui, também, o discurso anglo-americano de direitos e discriminação ocupou o centro do palco.
Isto aconteceu na minha vida. Nem isso; aconteceu na minha idade adulta. Mas a mudança é suficientemente pervasiva para me fazer esforçar para lembrar o que deslocou.
O que significa eliminar a discriminação por deficiência? Identificar e enumerar todas as formas pelas quais a sociedade precisa de ser reconfigurada?

Tentei uma vez, no início deste ano. Fiz uma encomenda na Amazon (eu sei) que foi encaminhada, através da UPS, para um quiosque de fast-food perto do meu prédio. Este local tinha degraus, nenhuma rampa e nem campainha nem informações de contacto disponíveis online. Foi a terceira vez que a UPS redireccionou um livro para lá. Não tive sorte ao dizer-lhes que o lugar era inacessível e que as pessoas que trabalhavam ponto de recolha eram... menos do que simpáticas. E então fiz uma reclamação oficial às autoridades norueguesas.
É tentador recontar todo o processo neste ensaio, porque é sempre tentador fazer outra pessoa viver a tua própria experiência de tédio e frustração. Mas vou exercer alguma moderação. Os utilizadores de cadeiras de rodas precisam de fazer isto, ou arriscam-se a parecer, bem, amargos. Basta dizer que, após nove meses de notificações cada vez mais confusas por parte das autoridades, informando-me de que não havia fornecido as informações de que precisavam para fazer um julgamento, eles julgaram ainda assim a meu favor. Leitor, isto é preto e branco: fui discriminado.
Os céus não se abriram, o coro não cantou. Possivelmente porque eu já tinha quase certeza de que havia sido discriminado, possivelmente porque este foi um incidente que eu poderia ter escolhido num grande número de incidentes semelhantes. E assim, embora ainda acreditando fervorosamente no direito de não ser discriminado, prefiro, por agora, focar-me noutra coisa: fazer com que o meu trabalho invisível, e o trabalho invisível das pessoas com deficiência em geral, sejam reconhecidos como trabalho.
Em 1987, Arlene Kaplan Daniels, no ensaio intitulado “Trabalho invisível”, desenvolveu uma crítica à compreensão geral do trabalho que colocava esta actividade numa esfera especial, separada do resto da vida. Desenvolvendo a sua análise a partir de tempos anteriores, análises feministas de como o trabalho doméstico era de acordo como género, desconsiderado e desvalorizado, como Silvia Federici em “Wages Against Housework”, Daniels usou o termo “trabalho invisível” para se referir a tarefas que são feitas não apenas fora da vista, mas também fora da mente. Essas eram tarefas que simplesmente não eram pensadas como trabalho, mas como actividades naturais – o que qualquer mulher deveria fazer voluntariamente, com alegria e sem compensação.
Crucialmente, na concepção de Daniels, o trabalho invisível tinha uma componente física e outra emocional. Esse trabalho incluía não apenas a limpeza, cozinha e logística envolvida na gestão de uma casa, mas também a responsabilidade final pelo bem-estar dos hóspedes, bem como de outros membros da família. A maneira como esses deveres se tornam “naturais” fazia parte de uma narrativa moral em que as mulheres teriam sucesso ou fracassariam em ser mulheres dependendo das reacções emocionais dos outros.
Nessa análise, o trabalho invisível manteve o mundo social e a economia capitalista a funcionar. Os homens só podiam trabalhar em turnos inteiros fora de casa porque o trabalho invisível das mulheres permitia-lhes fazê-lo, e as expectativas sociais de papéis de género para homens e mulheres eram igualmente apoiadas e mantidas. A assimetria das relações de poder entre os géneros é assim ampliada, assim como o desequilíbrio económico.
De muitas formas o argumento de Daniels aplica-se directamente ao trabalho invisível imposto às pessoas com deficiência por um mundo inacessível. Diante disso, há uma diferença significativa: o trabalho invisível das mulheres é realizado em grande parte para os outros, enquanto o trabalho invisível das pessoas com deficiência é realizado para elas próprias. Mas essa distinção é quase uma ilusão. Em primeiro lugar, as pessoas com deficiência muitas vezes são mulheres. E os fardos do trabalho invisível tendem a exacerbar ou mesmo criar deficiências e doenças crónicas. Em segundo lugar, o trabalho invisível que sustenta uma forma particular de estar no mundo também é um trabalho que sustenta uma rede complexa de relações sociais. A questão saliente sobre deficiência e trabalho invisível é, portanto, muito semelhante àquela sobre trabalho invisível e género: como seria o mundo se esse trabalho não fosse mais realizado?
Consequentemente, a falta de inclusão pode persistir para a grande maioria das mulheres. Quanto mais se envolvem outras formas de marginalização política – relacionadas com a pobreza, o racismo ou a saúde – mais difícil e menos relevante se torna estabelecer a discriminação “com base no sexo”. Uma estratégia de inclusão que beneficia mulheres cis ricas, brancas e sem deficiência não é necessariamente uma estratégia que beneficia todas as mulheres.
No meu próprio caso, o meu trabalho invisível apoia quase todos os aspectos do meu ser social, desde o meu papel como cônjuge e pai ao meu papel como académico e escritor. Não poderia ensinar os meus alunos nem partilhar as responsabilidades domésticas sem esses esforços; não poderia ser totalmente uma parte da vida do meu filho.
Em casa, a minha esposa e eu temos feito o possível para partilhar o trabalho invisível da forma mais justa possível, sendo o padrão que, no final do dia, estejamos igualmente cansados. Ela pode levantar coisas mais pesadas do que eu; posso assumir mais o trabalho logístico do segundo turno, lembrando e planeando as consultas ao dentista e as compras de roupas que são a teia e a trama da paternidade.
Fora de casa, as coisas ficam mais complicadas, pois não estou a negociar nem a colaborar com uma só pessoa, mas com o mundo. Poderia retirar-me, até certo ponto. Poderia pedir demissão do meu cargo na universidade e solicitar pagamentos por invalidez, mas isso não eliminaria a necessidade de manter a minha existência com a infinidade de tarefas e recados que me colocam em contacto com lojas e locais inacessíveis, com prestadores de serviços e agências governamentais.
A única maneira de escapar deste trabalho, a não ser uma reconstrução utópica do mundo, é parar de viver. As pessoas com deficiência sabem disso. Elas sabem que têm direito de acesso, de princípio e de direito, mas que devem trabalhar, continuamente, para reivindicar esse direito. Elas sabem que isso acontece porque há muitas instituições e pessoas que prefeririam um mundo sem pessoas com deficiência. Não é um mundo sem forças incapacitantes; um mundo sem pessoas com deficiência. E, assim, o trabalho invisível é, no fundo, o alto custo de viver num mundo com deficiência.
A acessibilidade pode, como apontou a estudiosa da deficiência Tanya Titchkosky, existir da mesma maneira que a “diversidade” – com o objectivo de se gabar de direitos por parte das instituições, organizações e empresas. Se alguns representantes das minorias forem visíveis e incluídos, então isso serve como prova suficiente de que as políticas anti-discriminação foram postas em prática e são boas o suficiente.
No entanto, no seu amplo argumento sobre os limites políticos da não discriminação, a académica e autora Amia Srinivasan invoca a análise interseccional, apontando que a discriminação “com base no sexo” é sempre mais fácil de identificar nos casos em que apenas o sexo pode ser usado para distinguir entre os casos, ou seja, para estabelecer que houve “discriminação”.
Pode ajudar um pequeno subconjunto de mulheres a ganhar poder dentro das estruturas existentes, mas é altamente provável que inclua aqueles que já são os membros mais privilegiados do “seu grupo” – concebidos de forma homogénea, heterogéneos na prática.
Este argumento feminista também é suficientemente flexível para se aplicar à deficiência. Certamente que se aplica a mim. Como um utilizador de cadeira de rodas altamente educado que também pertence à população de maioria étnica naquele que é indiscutivelmente o estado de bem-estar social mais rico do mundo, tenho poucas dúvidas de que beneficiei muito pessoalmente, e mais do que a maioria das pessoas com deficiência, com a viragem do campo da deficiência para a lógica política da anti-discriminação. Sou um dos poucos privilegiados; o meu status de pessoa com deficiência pode quase ser pensado como algo externo a mim, situado na minha cadeira de rodas. Se não fosse por isso (ou melhor, o motivo pelo qual preciso dela), eu seria “como toda a gente”. Essa foi a lógica que resultou na Convenção das Nações Unidas e nas diversas legislações nacionais. E embora as leis tenham diferentes graus de força política, não se pode negar que a sua existência mudou o discurso público e, em certa medida, a opinião pública. Discriminar contra pessoas com deficiência não é, muito mais do que antes, nada fixe.
Sei disso porque o mundo à minha volta mudou à medida que envelheci. Lembro-me de uma vez na Noruega em que praticamente ninguém se desculpou pela falta de um acesso; o problema era sempre eu, o cadeirante, e a minha expectativa irracional de conseguir entrar. Isto não é mais verdade. Existem até áreas recém-construídas na minha cidade, Oslo, onde irei aparecer num local sem verificar a acessibilidade com antecedência – um risco que não teria corrido nem mesmo há uma década. Nas adições mais recentes, sou poupado do trabalho invisível de mapear rotas, verificar imagens online, fazer ligações, escrever e-mails. Estou autorizado, dentro dos limites deste espaço, a confiar na afirmação utópica de que terei permissão para participar plenamente e em termos de igualdade com os outros.
O espaço é pequeno, porém, e poderia reclamar discriminação muitas vezes ao dia, se quisesse. Ou podia? Volto ao portão do jardim de infância, perguntando se a sua existência me discrimina. Sim, é inconveniente para mim abrir-lo – arriscado, até, no Inverno. Não é simplesmente um portão, mas uma barreira – aquilo que a convenção da ONU, por exemplo, pretende eliminar.
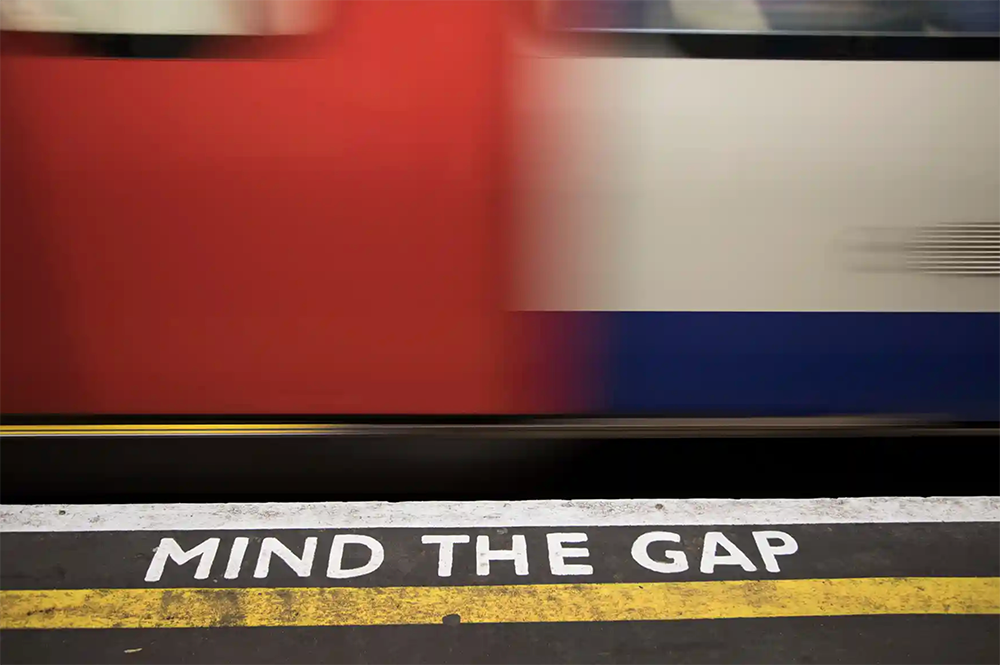
A convenção da ONU, no entanto, também tem outras preocupações. Em primeiro lugar, está preocupada em fornecer “acomodação razoável” – isto é, formas de acomodação que não impõem “encargos indevidos” a outros. A desvantagem que me é imposta por um portão que não consigo abrir deve ser ponderada em relação ao risco de que um “fardo indevido” seja imposto a quem for responsável por substituir o portão por outro que eu possa abrir. E então a questão nunca é simplesmente “Estou a ser discriminado?”. Na prática, é também “Quanto do meu trabalho invisível pode ser razoavelmente transferido para a sociedade?”.
Esta questão inevitavelmente traz-nos de volta à análise de Daniels da estrutura moral que faz o trabalho invisível parecer inevitável e natural. O que constitui um pedido razoável é uma questão moral. E assim, para cada uma das centenas de tarefas problemáticas que encontro ao longo do dia, se eu perguntar se estou a ser discriminado, devo também perguntar se estou a ser irracional. Se eu estou, sem razão, a tentar fugir dos deveres que decorrem naturalmente, inevitavelmente, de ter um corpo que não pode fazer as coisas que os corpos deveriam naturalmente ser capazes de fazer.
Mas não tenho energia para fazer esses julgamentos por mim e pela sociedade. Não tenho coragem de perguntar o que é razoável ou irracional, muito menos de perguntar que entidade é responsável e como procurar o recurso. Há, simplesmente, muito que tenho que fazer.
Às vezes, protesto. Às vezes, acredito que sou aceite e reconhecido. Tenho as credenciais e os privilégios de um académico branco, morando num país rico, viajando com um passaporte que é quase universalmente válido. Às vezes, posso acreditar que o meu trabalho invisível é, considerando todas as coisas, insignificante. Que estou protegido pelos direitos e pelos princípios pelos quais lutaram ao longo de gerações, que agora é apenas um item de interesse eu usar uma cadeira de rodas.
Parecia que estava a planear um ano sabático na Califórnia, quando fui entrevistado na embaixada americana em Oslo, enquanto preenchia o pedido de visto que solicitava informações muito específicas sobre a minha saúde, informações que poderiam ser usadas para avaliar o nível de risco que representaria para a saúde pública e o bem-estar financeiro dos Estados Unidos. Quando olhei para as outras pessoas na sala de espera, muitas das quais não tinham passaportes noruegueses ou privilégio norueguês, senti que já estava do lado de dentro, a olhar para fora.
E na Califórnia, em Berkeley, a minha família e eu ainda nos sentimos nessa bolha privilegiada. Embora o nosso trabalho invisível tenha sido redobrado neste país estrangeiro, onde não podíamos contar com a ajuda de amigos ou familiares, onde tive que me esforçar para me ajustar a uma casa que era menos acessível do que o nosso apartamento em casa, ainda parecia que eu era intocável. Estar a fazer isto – morar no exterior, como cadeirante, convidado da Universidade da Califórnia – teria sido impossível não há muito tempo.
Foi em Janeiro de 2020 que chegamos. Em Fevereiro, parecia que nos tínhamos encontrado. Como se em breve pudéssemos aproveitar a vida quotidiana sem uma sensação constante de tensão, de ter sempre muitas tarefas não resolvidas. Como se o nosso trabalho invisível estivesse a valer a pena. E então veio Março.
Juntamente com a repentina sensação de risco agudo, de perigo em toda parte, veio uma carga de trabalho redobrada. Com o jardim de infância fechado, com as prateleiras parcialmente vazias no supermercado, com o transporte público gradualmente a fechar, todos os aspectos do dia se tornaram um desafio logístico. Desde o dia em que a pandemia foi declarada como tal, a 11 de Março, mudamos de opinião constantemente sobre ir ou ficar, sobre se conseguiríamos sobreviver. Esperávamos ficar até Junho, mas no final apanhamos o penúltimo avião a sair da costa leste para a Escandinávia, a 28 de Março, dia em que fiz 39 anos.
Como é a cidade utópica, aquela na qual participo “em igualdade de condições”? Tenho um pressentimento. Posso imaginar as calçadas largas e as carruagens espaçosas do metro a partirem de plataformas perfeitamente niveladas. Consigo ver a ausência de barreiras que são claramente barreiras, resquícios de uma época em que poder andar era um requisito absoluto para a cidadania. O que não consigo ver é um mundo onde não há um maior esforço exigido de mim do que da pessoa padrão, seja ela quem for. Onde a diferença entre nós é apagada e eu, guiando a minha grande cadeira de rodas eléctrica preta, me misturo com a multidão.
Não foi apenas o trabalho, é claro. Fundamentalmente, era o medo de fronteiras fechadas, juntamente com o medo da doença e da morte. Mas esses medos eram difíceis de decifrar. Eu sabia, com absoluta certeza, que caso precisasse de ir ao hospital, a minha cadeira de rodas de 180kg ficaria para trás. Independentemente de como o meu corpo lidasse com uma infecção de Covid, eu estaria indefeso. Eu sabia, também, que se a minha esposa precisasse de ir ao hospital, e eu fosse deixado para trás com o nosso filho pequeno, dificilmente seria capaz de sobreviver sem ajuda externa – que já não era possível.
Em todo o mundo, muitas pessoas tiveram experiências semelhantes. Os direitos, é claro, estavam nominalmente estabelecidos – direitos a serviços, direitos a suporte. Mas, como pessoas com deficiência em todo o mundo descobriram durante a pandemia, os direitos não significavam muito quando o problema apareceu. Não apenas as regras de triagem significam que durante crises locais agudas, qualquer pessoa com uma condição crónica corre um risco maior de não receber cuidados médicos adequados, mas a política da pandemia também significa que as necessidades físicas de cuidados não são atendidas – em parte porque os recursos foram direccionados para outro lugar, em parte porque as medidas de saúde pública poderiam ser invocadas para dispensar serviços considerados muito pesados ou caros. Como disse Lennard Davis, num ensaio intitulado “In the Time of Pandemic, the Deep Structure of Biopower Is Laid Bare”: “Em relação à deficiência, a capacidade que coloca uma máscara de compaixão em tempos mais brandos agora revela a sua face brutal”.
A minha família e eu éramos muito, muito privilegiados. Pudemos pagar as passagens de avião; pudemos ir para casa. A Noruega não parecia exactamente segura, mas parecia infinitamente mais segura do que os EUA – e provou ser assim ao longo do tempo que se seguiu, à medida que a extrema vulnerabilidade das pessoas com deficiência se tornou visível através das taxas de mortalidade. Na crise, a linguagem da igualdade de direitos e anti-discriminação tornou-se a do utilitarismo e da priorização. O trabalho invisível não se tornou mais visível. Simplesmente havia mais e ainda menos divisão justa do que anteriormente. A desigualdade económica aumentou dramaticamente de Março de 2020 em diante. O mesmo aconteceu, talvez, com a desigualdade moral.
Estou a escrever isto... porquê, exactamente? Porque, acho, estou farto das piedades do inclusivismo neoliberal. Porque perdi a fé na nossa capacidade de colocar o véu da ignorância – de construir a utopia justa proposta por John Rawls, que pensou que poderíamos projectar melhor um mundo justo se esquecêssemos o nosso actual status social, género e crenças religiosas, mas que explicitamente, como aponta a filósofa Martha Nussbaum, excluiu a deficiência como um aspecto da diversidade humana a ser planeado no Novo Mundo.
Suponho que fosse muito difícil fazer isso.
Estou a escrever isto porque estou a tentar voltar a uma forma de pensar que quase parece perdida, embora tenha sido explicada e totalmente desenvolvida na época em que nasci; uma forma de pensar que permite que o trabalho não seja aquilo pelo qual és pago, mas, muito mais fundamentalmente, pelo esforço despendido.
É a mudança da economia para a física – energia transferida de um corpo – embora também, é claro, de um modo económico para outro. Não estou, talvez, a gerar uma mais-valia ao abrir o portão do jardim de infância do meu filho. Estou, no entanto, a manter a casa à tona. E a mim mesmo. Estou a mover-me no mundo, continuando no caminho para o meu trabalho real, aquele em que estou confortavelmente sentado à frente do meu computador, a escrever estas linhas – despendendo, em comparação, quase nenhum esforço.
E assim, finalmente, passo do portão do jardim de infância para a porta do próprio prédio: também de madeira, também pesada. Para abri-la, agarro o puxador com a mão esquerda, usando a direita para guiar com muito cuidado a cadeira de rodas para trás. Os meus braços têm alcance limitado, já que as contraturas nos meus músculos não permitem que eles se estendam além de um ângulo de 45 graus. Posso quase abrir a porta a um ponto em que posso guiar a cadeira de rodas para frente novamente, forçando a porta a permanecer aberta com a roda dianteira direita, mas é uma questão de sorte, ou de quão cansado estou, se consigo. Abrir a porta não é uma tarefa automática, mas algo que tento repetidamente e falho. E o dia mal começou. Tenho uma cidade para atravessar, ruas para atravessar, carruagens para andar, botões para alcançar. Haverá muito para fazer.
Como é a cidade utópica, aquela na qual participo “em igualdade de condições”? Tenho um pressentimento. Posso imaginar as calçadas largas e as carruagens espaçosas do metro a partirem de plataformas perfeitamente niveladas. Consigo ver a ausência de barreiras que são claramente barreiras, resquícios de uma época em que poder andar era um requisito absoluto para a cidadania. O que não consigo ver é um mundo onde não há um maior esforço exigido de mim do que da pessoa padrão, seja ela quem for. Onde a diferença entre nós é apagada e eu, guiando a minha grande cadeira de rodas eléctrica preta, me misturo com a multidão.
Artigo de Jan Grue, publicado a 4 de Novembro de 2021 no The Guardian.


Partilhar